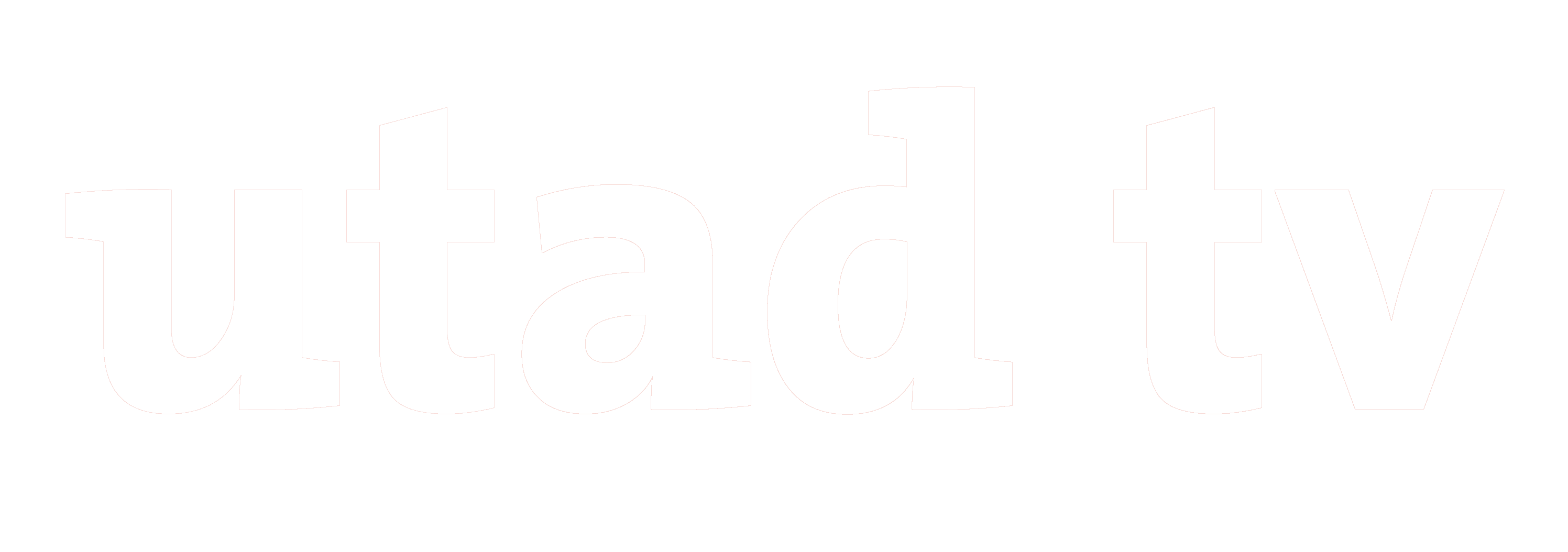Ensino Superior: um direito universal ou privilégio elitista?
Há algumas décadas, estudar numa universidade era um luxo reservado a poucos. O diploma era símbolo de status, de pertença a uma elite social e económica que podia pagar o preço do conhecimento. Com o tempo, Portugal tentou inverter essa lógica, abrindo as portas do ensino superior a todos os que quisessem e tivessem mérito para lá chegar. Foram criadas bolsas, programas de apoio e políticas de inclusão que, no papel, pareciam garantir a igualdade de oportunidades. No entanto, olhando para o presente, é difícil não sentir que estamos, pouco a pouco, a regressar ao ponto de partida. O ensino superior, que deveria ser um direito, volta a parecer um privilégio.
A realidade é que frequentar uma universidade em Portugal continua a ser, para muitos, um desafio quase impossível. As propinas, os custos de alojamento, as despesas de transporte e alimentação somam-se até formar uma barreira que separa quem pode sonhar de quem apenas observa à distância.
No meu caso, por exemplo, caso não existissem bolsas de estudo, a frequência do curso de Ciências da Comunicação, em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, seria um sonho inalcançável. O peso financeiro de uma vida académica é mais do que um número no recibo: é o reflexo de um sistema que ainda não percebeu que a educação é o investimento mais essencial para o futuro do país.
Mesmo numa cidade como Vila Real, onde o custo de vida é inferior ao das grandes metrópoles, a realidade estudantil não é simples. As propinas, que, atualmente, quase chegam aos 700 euros anuais, já são um encargo pesado para muitas famílias. Mas somam-se a isso as rendas dos quartos, a alimentação, os livros, os materiais e as viagens de regresso a casa, sobretudo para quem vive noutro distrito, e rapidamente se percebe que estudar é um privilégio que exige sacrifício. As bolsas de estudos, para quem tem a sorte e o mérito de as conseguir, é muitas vezes a única forma de manter o sonho vivo. Sem elas, o abandono seria inevitável, sendo que, em muitos casos, também não são o suficiente para se conseguir “sobreviver” a estas despesas todas.
Assim, diria que vivemos mesmo num tempo de contradições. Por um lado, o discurso público repete que a educação é um direito e que o acesso ao ensino superior deve ser ampliado. Por outro, medidas concretas e a vida quotidiana de muitos estudantes mostram o contrário, uma vez que o custo de frequentar uma universidade continua a empurrar para fora quem não tem meios.
Aliás, agora, com o recente anúncio de que o valor máximo das propinas das licenciaturas será, em 2026/27, atualizado para 710 euros anuais (um aumento de 13 euros face aos 697 euros atuais), esse fosso volta a ganhar visibilidade — trata-se, na prática, de um acréscimo de cerca de 1,08 € por mês, depois de anos em que o valor se encontrava congelado.
Treze euros por ano podem parecer simbólicos quando vistos isoladamente, mas o problema é mesmo esse: cada pequeno ajuste revela a fragilidade de quem vive no limite e sublinha que a solução não passa por mudanças cosméticas. O verdadeiro caminho do desenvolvimento, isto é, a transformação estrutural que tornaria o ensino superior efetivamente um direito e não um privilégio, passa por um conjunto coordenado de políticas públicas e práticas institucionais que atuem em simultâneo e de forma sequencial.
Se em Vila Real o esforço é grande, nas grandes cidades como Porto, Lisboa ou Coimbra, transforma-se num verdadeiro teste à resistência humana. O alojamento é, talvez, o maior inimigo dos estudantes. Um quarto em Lisboa pode facilmente ultrapassar os 600 euros mensais, e em muitas zonas até mais. No Porto, os preços não ficam muito atrás. E mesmo nas residências universitárias, que são, na grande maioria das vezes, escassas e com listas de espera intermináveis, as condições nem sempre correspondem às necessidades básicas. A falta de políticas de habitação estudantil é um problema estrutural, ignorado ano após ano, enquanto os jovens são empurrados para soluções precárias ou para dívidas que comprometem o futuro.
O mérito, por si só, já não basta: é preciso ter meios.
Além das despesas fixas, há ainda a dimensão emocional e social deste desequilíbrio. Estudar longe de casa implica solidão, pressão e, muitas vezes, o peso de saber que cada euro gasto é fruto de um esforço familiar. Há quem trabalhe em part-time para conseguir pagar as contas, sacrificando horas de estudo e descanso. Outros desistem, não por falta de talento ou vontade, mas porque o sistema lhes fecha as portas de forma silenciosa. O mérito, por si só, já não basta: é preciso ter meios. E isso é o que mais fere a ideia de justiça e igualdade num país que se quer democrático.
O discurso oficial fala em “democratização do ensino superior”. As estatísticas mostram mais alunos inscritos, mais diplomados, mais diversidade social. Mas a verdade por detrás dos números é menos otimista. Democratizar não é só permitir a inscrição: é garantir condições dignas de permanência e sucesso. É inútil abrir as portas se, logo a seguir, o corredor estiver cheio de obstáculos. Quando um estudante tem de escolher entre estudar e comer decentemente, o sistema falhou. Quando o valor das propinas representa praticamente um mês inteiro de salário mínimo, o ensino superior deixou de ser um direito.
A questão fundamental é esta: o ensino superior em Portugal está, novamente, a tornar-se um privilégio para quem pode pagar. E isso não é apenas uma injustiça social, mas, isso sim, um erro estratégico. Um país que desinveste na educação está a cortar o próprio futuro. As universidades não podem ser ilhas elitistas, reservadas a quem tem posses. Devem ser espaços de mobilidade social, de igualdade de oportunidades e de transformação. Quando o acesso depende da carteira, o talento perde-se, o mérito enfraquece e a sociedade empobrece.
O caminho passa, no meu entender, por, primeiramente, a ação social escolar ter de deixar de ser um mecanismo reativo e fragmentado e passar a ser um sistema proativo, com envelopes orçamentais claramente definidos para quatro rubricas essenciais: propinas (ou isenção), alojamento, transporte e subsídio de material.
Isso implica, na prática, que o Estado aloque no Orçamento do Estado verbas anuais indexadas a indicadores objetivos (rendimento mediano, inflação e percentagem de estudantes deslocados) e crie linhas orçamentais específicas para emergências, com pagamentos imediatos.
Por exemplo, um plafond de emergência que permita suportar uma renda urgente durante três meses enquanto se regulariza o processo de atribuição de apoio. No terreno, esse reforço da ação social exige um mapa digital unificado: uma plataforma nacional onde os estudantes submetem apenas uma vez a sua prova de insuficiência económica, com integração automática com finanças e segurança social para verificação de dados, e com prazos máximos de decisão (por exemplo, 30 dias). A redução da burocracia não é uma questão de conforto. É, também, a diferença entre um estudante poder matricular-se e outro desistir.
Para além disso, a política tem de contemplar bolsas de continuidade e mecanismos automáticos de proteção. Por exemplo, se um agregado familiar registar perda de rendimento abrupta, o estudante deve ativar por via eletrónica um apoio extraordinário sem ter de reiniciar todo o processo.
Em simultâneo, o investimento público em habitação estudantil é imprescindível e tem de ser planificado por metas regionais. O caminho do desenvolvimento passa por um Plano Nacional de Residências com objetivos anuais (por exemplo, X camas por ano durante cinco anos) coordenado pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério das Infraestruturas e dos municípios. O financiamento pode combinar fundos centrais, fundos europeus de coesão e parcerias público-privadas, mas sempre com cláusulas contratuais que obriguem a renda controlada e a prioridade para estudantes deslocados.
No curto prazo, a reabilitação de edifícios públicos subutilizados (escolas, quartéis, câmaras antigas) oferece respostas rápidas e mais baratas do que construção nova; no médio e longo prazo, a construção de residências modernas e sustentáveis capacita regiões inteiras a reter jovens. Para tornar isto operativo, cada universidade deve apresentar, anualmente, um plano de alojamento com indicadores de necessidade, prazos de execução e fontes de financiamento, sujeitos à avaliação pública e ao desbloqueio condicionado de fundos.
A mobilidade é outro eixo do caminho. Propõe-se a criação de um passe intermodal nacional para estudantes do ensino superior, com tarifação reduzida e cobertura integrada de comboios, autocarros e metro, negociado entre Governo e operadores com contrapartidas regionais. Para os estudantes do interior, isso representa uma economia direta e facilita o retorno às famílias nos fins de semana sem penalizar tanto o orçamento.
Na prática, esse passe poderia funcionar por subsídio federado: o Estado comparticipa X% do custo e a instituição complementa com bolsins locais quando necessário; os operadores recebem garantias de volume e estabilidade financeira, o que justifica a redução tarifária. A implementação passa por convenções quadrienais entre Governo, Autoridade Nacional de Transportes e operadores regionais, com avaliação semestral dos efeitos sobre a frequência escolar e o abandono.
Quanto ao regime de propinas, é preciso uma reforma que combine progressividade e simplicidade administrativa. Em vez de encarar o ensino superior como uma despesa, o Estado deve vê-lo como um investimento essencial no futuro coletivo. O ideal seria, por isso, caminhar para um modelo em que as propinas fossem totalmente gratuitas ou, pelo menos, de muito baixo custo, como já acontece em países como a Noruega, a Dinamarca ou a Alemanha. Mesmo não estando aqui a comparar contextos socioeconómicos, estes exemplos demonstram que é possível conciliar qualidade de ensino com acessibilidade, através de políticas públicas que reforcem o financiamento estatal das universidades e assegurem a igualdade de oportunidades para todos os estudantes.
Por outro lado, também é essencial garantir serviços básicos a preços sociais. Cantinas com refeições subsidiadas, lojas académicas para material curricular com preços controlados e acordos com fornecedores locais para reduzir custo dos livros. A criação de um fundo nacional de apoio alimentar e livros, com dotação específica, assegura que nenhum estudante arrisque o seu rendimento académico por falta de dinheiro para comer ou estudar.
Por fim, e sem menosprezar a dimensão orçamental, o caminho do desenvolvimento passa por transparência e monitorização. É indispensável publicar indicadores públicos (taxa de abandono por motivos económicos, médias de tempo de conclusão por escalão, percentagem de estudantes em residências) e criar um observatório independente que avalie a eficácia das políticas e recomende correções, que são, obviamente, sempre bem-vindas. Isto transforma intenções em resultados mensuráveis e permite reorientar rapidamente o esforço público onde for mais necessário.
É importante ressalvar que estas reflexões não pretendem, de modo algum, entrar em campos políticos ou partidários.
É importante ressalvar que estas reflexões não pretendem, de modo algum, entrar em campos políticos ou partidários. Não se trata de apontar responsabilidades a governos ou de discutir medidas ideológicas, mas antes de expor uma realidade que afeta milhares de jovens em Portugal e de propor caminhos possíveis, mesmo tendo plena consciência das limitações e desafios que o contexto económico nacional impõe. As dificuldades orçamentais do Estado são reais, o custo de vida pesa sobre todos e a sustentabilidade financeira das instituições de ensino superior é uma preocupação legítima. Ainda assim, é fundamental manter viva a discussão sobre o acesso equitativo à educação, pois é nela que reside o verdadeiro motor de desenvolvimento de qualquer país.
Em suma, o ensino superior em Portugal ainda é, em demasiados casos, um privilégio disfarçado de direito. As políticas de apoio existem, mas são insuficientes e desiguais. A utopia de uma educação acessível para todos permanece longe da realidade. Garantir um ensino superior acessível não é apenas uma questão económica, é (ou deveria ser) um imperativo ético e civilizacional. Um país que impede os seus jovens de estudar está a hipotecar o seu próprio futuro.
Se queremos uma sociedade mais justa, produtiva e preparada para os desafios do século XXI, não podemos aceitar que o conhecimento seja um luxo reservado a poucos. O caminho passa por garantir que cada jovem, independentemente da sua origem ou condição, possa estudar sem medo do peso financeiro que isso implica. Só assim o ensino superior deixará de ser um privilégio e voltará a ser aquilo que sempre deveria ter sido: um direito universal.